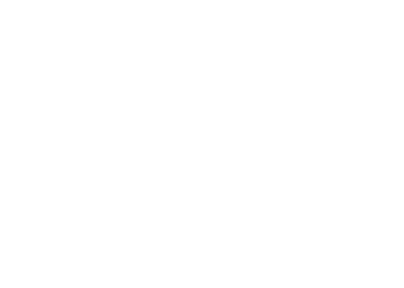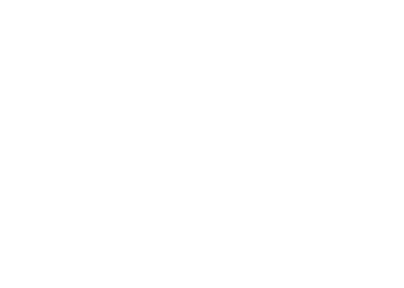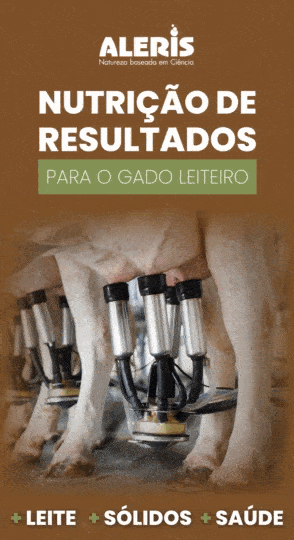Ao menos para os(as) interessados(as) em política internacional, não há dúvidas de que o multilateralismo está em progressiva crise. Dizer que esse importante arranjo, feito para organizar politicamente os Estados-nações, passa por problemas não deve causar estranheza. O decorrer do século XX, a partir dos anos 1950, bem como o atual, está repleto de datas que marcam guerras e conflitos de toda ordem, o que constrange o multilateralismo.
Eis algumas datas:1953, Guerra da Coreia, com os Estados Unidos; 1956, Guerra de Suez, Reino Unido, França e Israel contra Egito; 1973, embargo promovido pelos membros da Opep; 1982, Guerra das Malvinas, entre Reino Unido e Argentina; e, para não nos prolongarmos nesse ponto, Guerra do Golfo, de 1991, quando os Estados Unidos lideraram um bloco militar contra o Iraque. Aqueles foram conflitos variados que, apesar da dramaticidade que alcançaram, não chegaram a pôr o multilateralismo e sua gestora maior, as Nações Unidas, em intensa crise. Isto porque, de um modo ou de outro, aqueles embates foram administrados razoavelmente, sem perturbar longamente a ordem internacional.
Organizado e fomentado a partir da Segunda Guerra Mundial, nomeadamente pelos Estados Unidos e Reino Unido, o multilateralismo havia ganhado corpo na conformação de temas que se faziam importantes para o bom relacionamento entre os países — era necessário um diretório diplomático para que o mundo entrasse em reconstrução após 1945.
Em economia, logística, saúde, energia nuclear e, claro, em política, o multilateralismo havia conseguido se firmar como meio de administração de impasses e propor resoluções. Recordamos da época em que havia “estabilidade hegemônica”, na qual os Estados Unidos usavam sua força e dinheiro para manter certo equilíbrio e, daí, extrair alguma vantagem.
Fundo Monetário internacional (FMI), Banco Mundial, Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), substituído pela Organização Mundial do Comércio em 1995, Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras congêneres procuraram marcar princípio de governança global, cujo centro diretor está em Nova Iorque.
Porém, o multilateralismo não tem sido capaz de apresentar a mesma desenvoltura na atual guerra europeia, entre Rússia e Ucrânia. Já adiantamos que não será possível analisar satisfatoriamente tal questão em poucas linhas. Mesmo assim, pensamos ser possível contribuir com este curto texto para que outros mais bem feitos sejam publicados para enriquecer o debate que se faz necessário, uma vez que isso também interessa ao Brasil, independentemente da plataforma eleitoral que venha a ganhar as eleições presidenciais de 2022.
Este debate interessa ao Brasil, uma vez que a crise do multilateralismo, e aquilo que ela representa, não deve passar despercebida, como se fosse apenas um problema corriqueiro da política internacional. O Estado brasileiro terá de fazer balanço estratégico e diplomático, de grande monta, para saber que caminho tomar e que ferramentas adotar em face desse desgaste internacional. E esperamos que a plataforma governamental que adentrar ao Palácio do Planalto tenha noção da situação difícil que o Brasil poderá ter nessa questão: de “sugestões” e implicações que podem enfraquecer o país perante a desigualdade interestatal.
Ao contrário daquilo que muito se passou a acreditar nos anos 1990, sem a União Soviética, as condições para os países com menor poder relativo não têm sido melhor na atualidade. O impasse do multilateralismo, que o descaracteriza como o conhecemos, não apena mira os integrantes do Hemisfério Sul, mas também a própria Rússia, Índia, Irã e China, por exemplo. Dizemos que o desarranjo das instituições internacionais não é desprovido de interesses políticos, sem endereço certo. Não queremos dizer que pelo fato dessa crise mirar os mencionados países, haverá, obrigatoriamente, preeminência sobre eles.
Isso porque se tratam de países que têm poder suficiente para resistir ao desarranjo, mesmo que haja problemas sociais e econômicos prementes, assim como demográficos, que envolvem Índia e Rússia. Dos países fora do Hemisfério Norte, certamente a China é o que mais se aproxima do arcabouço de poder encontrados nos Estados Unidos e Europa Ocidental.
Por isso, a crise pela qual passa o multilateralismo ocorre de maneira paradoxal. Isso acontece porque o sistema apresentado não dá cabo de uma guerra que acontece com uma grande potência, a Rússia, com apoio (ainda que discreto) da China, dois países membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Torna-se também paradoxal porque, no lugar de propor meios de desaquecimento do conflito armado, as instituições multilaterais praticamente se limitam a criticar Moscou, mas se omitem a perceber o que faz a Otan, bem como a União Europeia, que dá impressão de se regozijar por enviar bilhões de dólares em armamento pesado para a Ucrânia, promovendo guerra por procuração para enquadrar a Rússia. Dessa forma, a suspensão de Moscou do sistema internacional de comercialização de petróleo e gás natural serve como exemplo. Vale dizer, suspensão para quem mais necessita de hidrocarbonetos, caso da maior parte da Europa Ocidental.
Em segundo lugar, o desgaste do multilateralismo parte também dentro das Nações Unidas, na medida em que ela procura sobressair, em parte, às soberanias nacionais, principalmente os países de menor poder da África e América Latina, no primeiro plano, que não possuem recursos necessários para o poder nacional. E daí emerge a necessidade de haver novo arranjo internacional, talvez o agrupamento Brics seja o mais evidente, já que o antigo não dá mais conta das complexidades pelas quais passam os países do Hemisfério Sul.
No fundo, a Secretaria Geral das Nações Unidas trabalha para que haja nova construção institucional a partir de “nova agenda”, supostamente a favor de todos os países e carregada de teor progressista. Nessa nova agenda se inclui a descarbonização da economia internacional, bem como a procura de obter “governança global”, que deve contar com a anuência de países que detém relevantes recursos naturais, hidrocarbonetos ou florestais.
Todo esse empenho pela nova agenda (Agenda 30) não é desvencilhado de interesse por parte de determinados países e incorporado pelas Nações Unidas. A questão é saber qual é sua direção e os seus(as) promotores(as) que não tenham relação automática com essa agenda. Se as Nações Unidas, com seu Secretariado Geral, não têm poder propriamente dito, do modo como se imagina poder na política tradicional, a quem ela serve, então?
Na linguagem coloquial, costumamos usar a expressão “cavalo de troia” para entendermos um presente que traz em si ameaça, simpatia danosa. Usaremos algo apropriado à nossa cultura: “bicho barbeiro”, que, a exemplo da clássica lenda do mundo grego, traz os danos em seu ventre. Desse inseto sai o agente que pode perturbar, entre outros, o Brasil.
Assim, se as organizações multilaterais não imprimem poder por si, isso não impede que elas sejam usadas para promover o poder, ou interesse, de outras potências. Ao apresentar imagem como se elas fossem isentas nos conflitos internacionais, as Nações Unidas, e suas correlatas, podem ser o bicho barbeiro que traz em seu ventre os(as) agentes a favor dos países industrializados. Dizer que a agenda de tais países não combinaria com o ideário das instituições é fato que não perdura muito depois de averiguar a conveniência dessa premissa.
Se o bicho barbeiro é o vetor que pode enfraquecer determinados países em nome de novo arranjo internacional, pela crise do multilateralismo e, por isso, fortalecer quem já é forte, quais seriam então os efeitos (ainda em forma de sugestão) do capcioso protozoário, cuja imagem pode ser de algo inocente, e até virtuoso, que trabalharia em nome de um mundo melhor?
Nesse bloco de sugestões há o emprego da economia verde, sob a qual há empenho para que haja descarbonização da economia internacional, quer dizer, menos petróleo, carvão mineral e gás natural. No lugar dos hidrocarbonetos se pede energia renovável. Disso podemos advir que o Brasil sairia ganhando, mas não; ao menos de modo automático. Para as organizações internacionais, mais envoltas com o engajamento da agenda verde, a participação do Brasil pelo etanol poderia ser danosa, uma vez que a produção de combustível renovável levaria desmatamento à Amazônia ou à falta de alimentação. Vale notar que tais críticas já foram feitas nas Nações Unidas e na União Europeia em 2007 e 2008.
A questão é que a descarbonização da economia internacional deve ficar sob auspícios de Nova Iorque, a saber, das potências industrializadas, e não como fruto de combinação de interesses. O controle sobre a economia do petróleo ficaria ainda no Hemisfério Norte. Partes do Hemisfério Sul poderiam produzir energia renovável, mas sob cadência internacional. De alguma forma, esse dilema energético poderia acarretar nova clivagem Norte-Sul, cujo ponto nervoso teve episódio com o embargo da Opep e da guerra entre Irã e Iraque, em 1979. O Oriente Médio continua sendo a zona principal de produção de óleo; e o Brasil se filiaria ao seleto clube de fornecedores(as) internacionais de energia.
As sanções que ascendem sobre a Rússia, em virtude da guerra atual, criam fenômenos perturbadores. Retira da Europa recursos urgentes para manutenção de sua economia, bem como seu bem-estar, uma vez que o inverno iminente dá sinais de ser muito rigoroso. Essa questão, de alguma forma, põe a agenda de economia verde em suspensão. O que fora feito por protesto do Sul, em 1973, tem nova edição por pressão do Norte em 2022. E o resultado continua análogo nas duas datas: desabastecimento, carestia e angústia.
Por conseguinte, os Estados Unidos procurariam substituir os energéticos russos pelos seus próprios. Por ser país autossuficiente na atualidade, os Estados Unidos exportariam seus hidrocarbonetos para a Europa, mas com valor superior àqueles importados da Rússia. A produção relevante de energia fica subordinada à promessa de energia verde, da Agenda 30. A produção de etanol do Brasil é boa, desde que não contrarie às Nações Unidas. De fato, a crise do multilateralismo dá um drama que há muito tempo não se vê igual.

(*) José Alexandre Altahyde Hage é professor do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (Eppen) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) — Campus Osasco